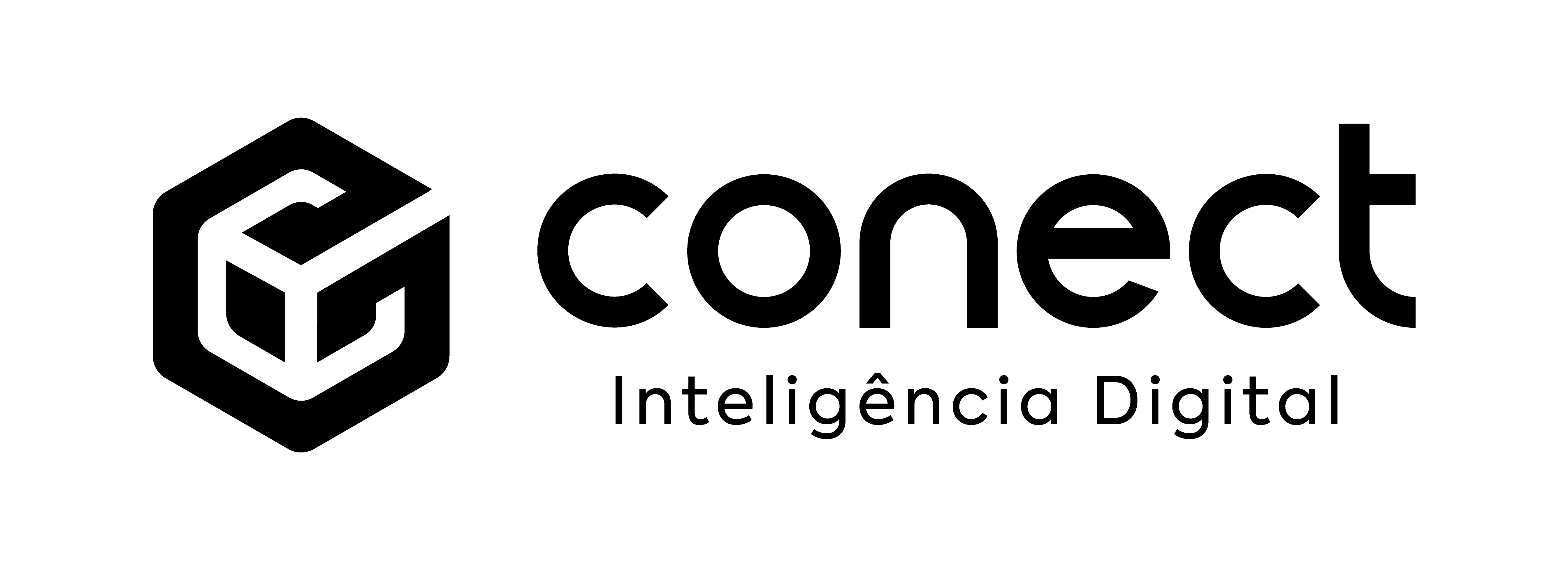Reformar ou Transformar: Discussão Filosófica sobre Mudança e Inovação – Chaves Space
Data: 09/03/2025 06:41:12
Fonte: chaves.space
Parte 1
A discussão desses dois binômios, “Reforma ou Transformação” e “Mudança e Inovação”, não é nova. Quem a lançou foram os filósofos gregos, mais de 2.500 anos atrás.
É verdade que os Gregos estavam mais preocupados com a questão da “Mudança e Identidade”: até que ponto podemos mudar alguma coisa qualquer sem que ela perca a sua identidade, isto é, antes que ela se torne uma outra coisa? Mas as duas questões têm pontos de contato.
Ilustro com dois exemplos.
Primeiro exemplo.
No meu último dia em San José, nessas férias, assisti um pouco de TV, para relaxar, depois de as malas estarem arrumadas para a saída do hotel no dia seguinte, cedo. Vi um capítulo de um desses programas em que uma empresa se propõe fazer uma série de mudanças em uma casa (i.e., reformar uma casa) porque a casa, do jeito que está, não está dando (para usar uma expressão que está ficando comum em relação ao Brasil). No capítulo que eu vi, numa divisão de propriedades entre filhos e netos, depois da morte dos avós, um casal, que estava precisando comprar uma casa, sendo um dos cônjuges neto dos falecidos, se propõe comprar a casa dos demais herdeiros, por um preço bastante atraente, SE eles puderem reforma-la. Se não puderem reforma-la, não querem ficar com a casa – porque ela, do jeito em que ela se encontra, não está dando para servir como a habitação deles… Os demais herdeiros que eram filhos dos falecidos, por sua vez, que cresceram naquela casa, do jeito que ela era e ainda é (embora um pouco desgastada pelo tempo), e estão acostumadas com ela desse jeito, admitem que algumas mudanças sejam feitas no imóvel, ma non troppo, porque não querem que a casa seja descaracterizada – isto é, que ela perca a sua identidade. Admitem que ela sofra alguma reforma, mas não querem que ela seja transformada, de modo a não parecer mais a mesma casa, ou a não mais propiciar a sensação de que ela perdeu a identidade e passou a ser, não mais a mesma casa dos avós, a casa “grandparental”, se posso criar o neologismo, mas uma outra casa inteiramente… Na história da TV (provavelmente inventada) os envolvidos acham uma solução salomônica: mudam o suficiente para que a casa passe a ser um ambiente agradável para a geração mais nova e moderna viver, mas não demais para que a geração dos mais velhos tenha a impressão de que a casa foi refeita ou reinventada…
Segundo exemplo.
Para mostrar que venho pensando nessa questão há um bom tempo, em 1990 escrevi um trabalho para a Second Assembly on World Religions, que tem o seguinte título: “How Far Can a Doctrine Change Before Becoming Something Else?” (“Até que Ponto é Possível Mudar uma Doutrina Antes que ela se Torne uma Outra Doutrina?”). O artigo pode ser encontrado, no original em Inglês, em um blog meu, Liberal Space, no URL https://liberal.space/2014/05/26/how-far-can-a-doctrine-change-before-becoming-something-else/. Transcrevi o artigo em outro blog meu, Theological Space, com alguns comentários adicionais, no URL https://theological.space/2015/09/08/how-far-can-a-doctrine-change-before-becoming-something-else/.
Esse artigo representa um ponto muito importante em meu desenvolvimento teológico. Discuto esse desenvolvimento em dois outros artigos relevantes a este contexto: primeiro, “Duas Crises Hermenêuticas”, que escrevi em 25/05/2014, e que está disponível também no meu blog Liberal Space, no URL https://liberal.space/2014/05/25/duas-crises-hermeneuticas/, que ali é acompanhado de uma entrevista em vídeo, feita por meu sobrinho, Vitor Chaves de Souza, teólogo, fotógrafo e cineasta, na qual ele tenta esmiuçar um pouco o meu desenvolvimento teológico, e que, de certo modo, contextualiza a entrevista; e, segundo, “Literalismo, Hermenêutica e Liberalismo”, uma longa peça que escrevi em 04/07/2015, quase um ano depois do anterior, para explicar melhor o conteúdo do artigo anterior, e que está disponível no mesmo blog, no URL https://liberal.space/2015/07/04/literalismo-hermeneutica-e-liberalismo/. (Os dois artigos estão também republicados no blog Theological Space, mas sem nenhum elemento adicional, só por redundância, à qual recorro para tornar mais fácil o acesso aos artigos).
Qual é o problema discutido nesses três artigos? Sendo “curto e grosso”, discutirei dois momentos do que hoje me parece ser um único problema.
Primeiro momento.
Entre 1965 e 1970 eu, que em 1970 terminei meu Mestrado em Teologia, e que já tinha uma Graduação na mesma área, cheguei à conclusão de que o Cristianismo Tradicional, em seus aspectos doutrinários, como representado pelos Cristãos Fundamentalistas e mesmo pelos Cristãos Conservadores, simplesmente não dava para aceitar. Esta foi a que chamei de minha “Primeira Crise Hermenêutica”: interpretado literalmente, o Cristianismo herdado do meu pai, pastor conservador, beirando o fundamentalismo, não dava para engolir. Resolvi, então, me tornar um Liberal Bultmanniano.
[Faço aqui um grande parêntese. Há historiadores do pensamento cristão que consideram Rudolf Bultmann um neo-ortodoxo, ou um pensador dialético (não no sentido marxista) e não um liberal. Aqui não é o lugar para discutir isso, mas estou totalmente convencido de que Bultmann era um liberal, não um neo-ortodoxo. Fiquei muito contente, em 2015, quando encontrei um livro recém publicado, de quase mil páginas, que, até certo ponto, confirma minha convicção. Trata-se de The Mission of Demythologizing: Rudolf Bultmann’s Dialectical Theology, de David W. Congdon. Paguei a bagatela de 75 dólares pelo livro em capa dura, mais 10 dólares de frete para tê-lo rapidamente aqui no Brasil naquela época. Eis o que Congdon afirma em uma nota de rodapé na segunda página da Introdução, depois de definir “Teologia Liberal” como “uma reinterpretação moderna do Cristianismo” (p.xviii). Na Nota de Rodapé 3 ele afirma: “Esta é uma definição intencionalmente ampla da ‘Teologia Liberal’. Bultmann se refere ao Liberalismo [Teológico] geralmente em termos pejorativos, para indicar uma forma bastante específica de teologia contra a qual ele e Barth reagiram, teologia essa influenciada pelo Idealismo Hegeliano e pelo Historicismo, em particular. Mas Bultmann também reconhece que sua própria teologia contribui para um entendimento mais amplo e menos problemático do que seja a Teologia Liberal. É neste sentido positivo da expressão Teologia Liberal que eu tenho em mente ao definir Teologia Liberal como defini.” (Ênfases acrescentadas). Na sequência, Congdon esclarece que a Teologia Liberal representa uma “acomodação” do Cristianismo à Modernidade, acomodação essa que torna imperativa uma “reconstrução das doutrinas tradicionais“. Ao dizer isso, ele acrescenta uma nova Nota de Rodapé, a de número 4, em que afirma — invocando o apoio de um outro conhecido teólogo da atualidade. Diz ele na Nota de Rodapé 4: “Esta posição é defendida, recentemente, por Roger E. Olson, The Journey of Modern Theology: From Reconstruction to Deconstruction (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2013). According to Olson’s narrative, modern theology is a struggle between those who ‘accommodated’ modernity (liberals) and those who ‘rejected’ [this accommodation] (conservatives and fundamentalists).” No entender de Olson (segundo Congdon) a teologia de Barth seria uma tentativa de encontrar uma terceira via, isto é, de “[hold] firmly to the gospel of Jesus”, mas “communicate [this gospel] in as relevant a way [as] possible to contemporary culture”. Congdon se refere à p.712 do livro de Olson para fundamentar suas afirmações. Acrescento que a noção de “acomodação” foi introduzida na discussão da Teologia Liberal por Ernst Troeltsch, que, no entanto, defendeu a tese de que o Cristianismo é uma religião histórica que, como tal, desde o início buscou e alcançou acomodação com a cultura do ambiente em que se implantou. Segundo esse ponto de vista, a Teologia Liberal, enquanto um empreendimento moderno, nada teria de original. Acrescento que o historiador americano Arthur Cushman McGiffert, considerado um teólogo liberal (e processado como tal dentro da Igreja Presbiteriana Americana, então predominantemente, conservadora e fundamentalista), defendeu a Teologia Liberal afirmando que a referida acomodação do Cristianismo à cultura de seu ambiente havia sempre sido pratica pelos teólogos cristãos, invocando a obra de ninguém menos do que Tomás de Aquino como exemplo de acomodação do Cristianismo à cultura europeia do século 13 que começava cada vez mais a assumir características aristotélicas. Mais importante ainda do que Tomás de Aquino, afirma McGiffert, é Paulo, que acomodou o cristianismo simples e judaico de Jesus ao Helenismo que prevalecia no mundo Greco-Romano. Sem essa acomodação o Cristianismo difícil teria prevalecido no Império Romano. McGiffert faz essas afirmações em seu livro A History of the Christian Thought (2 vols. Scribner’s, New York, 1932, 1960). Fim do parêntese.].
Segundo momento.
Vinte anos depois de eu terminar meu Mestrado em Teologia, em 1990, eu fui convidado a escrever um trabalho sobre até que ponto eu ainda era um protestante ou mesmo um cristão… Eu poderia ter respondido como uma vez o fez o Rubem Alves, que, diante da mesma pergunta (em relação ao Protestantismo, não ao Cristianismo), respondeu: “Claro que sou. Sou, porque fui” – uai! (A magnífica elaboração dessa resposta alvesiana está em um artigo de 1981 que eu republiquei em meu blog. Confiram: “‘Confissões de um Protestante Obstinado’: Depoimento de Rubem Alves”, em Liberal Space, no URL https://liberal.space/2015/10/07/confissoes-de-um-protestante-obstinado-depoimento-de-rubem-alves/. É uma obra de arte o artigo dele.
Mas a minha resposta foi diferente da do Rubem. Tentei lidar de frente com o problema no artigo de 1990.
[Faço mais um parêntese, este mais curto. Não se esqueçam de que o Rubem Alves e eu fomos amigos durante exatamente 50 anos, de 1964, ano do Golpe Militar, quando entrei no Seminário Presbiteriano de Campinas, onde ele também, alguns anos antes, havia estudado, até a morte dele, em 2014. Estudamos no mesmo seminário, o Presbiteriano de Campinas, embora em épocas diferentes; estudamos nos Estados Unidos, fazendo Pós-Graduação, mais ou menos na mesma época, ele em Princeton e eu em Pittsburgh; e de 1974 em diante fomos colegas na UNICAMP, tendo ele se transferido do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas para a Faculdade de Educação da Universidade quando eu assumi a direção desta, em 1980; e ainda fomos, ao mesmo tempo, membros de dois colegiados da Universidade: primeiro, a Câmara Curricular do Conselho Diretor, depois o Conselho Universitário, no qual, ao mesmo tempo, ele foi presidente da Comissão de Legislação e Normas e eu presidente da Comissão de Orçamento e Patrimônio, as duas sendo as principais comissões do Conselho Universitário, tendo nós dois contribuído decididamente para a eclosão da chamada Crise (e consequente Intervenção) de 1981 na Universidade. Isso está relatado em vários lugares, o mais importante sendo o livro O Mandarim, do insuspeito jornalista Eustáquio Gomes, publicado pela Editora da UNICAMP, e esgotado também em sua segunda edição. Fim do parêntese.]
Confrontado assim diretamente com a questão até que ponto eu ainda me considerava um Protestante e um Cristão, resolvi historiar as minhas crises intelectuais – agora descrevendo principalmente uma “Segunda Crise Hermenêutica”. Na primeira crise, recapitulando, eu fiz papel equivalente ao do casal de netos dos falecidos no programa da TV americana: ser cristão tradicional, fundamentalista, ou mesmo conservador, não dá. É preciso reformar o Cristianismo, promover a sua modernização, realizar nele um profundo “aggiornamento” – que é o que o Liberalismo de Bultmann fez (e chamou de Demitologização) — antes de poder aceita-lo. Foi isso que fiz. Na segunda crise, eu comecei a fazer o papel dos herdeiros da geração anterior, os filhos dos falecidos: assim também não dá, porque, no processo, o Cristianismo foi descaracterizado, tornando-o algo essencialmente diferente do que sempre havia sido…
[Ainda outro parêntese, o terceiro. Note-se que em ambas as crises eu estava sendo “cativo de minha consciência” – algo muito parecido com o que disse Lutero, diante do Imperador Carlos V e do representante do Papa Leão X, na Dieta de Worms, em Abril de 1521, em passagem que o jornalista Percival de Souza citou em sua abertura do Simpósio de ontem (24/2/2018), resumido no primeiro artigo deste novo blog – embora Percival tenha erroneamente definido a data do dito de Lutero em 1517, quando da suposta afixação das 95 Teses na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg, o correto sendo o 1521, quando compareceu à Dieta de Worms, diante do Imperador Carlos V e do representante do Papa Leão X . De qualquer forma, eis o que disse Lutero, nas palavras de Percival (que eu transcrevi no Facebook): “Não é seguro nem defensável para o cristão agir contra a sua consciência.” Curiosamente, a passagem que Percival citou ontem foi o mote de meu artigo de 1990! Fim do parêntese.]
Entre 1970 e 1990 eu evoluí e cheguei à conclusão de que Bultmann ia longe demais, e que ele traía a identidade do Cristianismo, transformando-o em Existencialismo Heideggeriano… Eis o que eu disse no artigo de 1990, em minha própria tradução:
“Por que eu agora não consigo aceitar as reinterpretações do Cristianismo oferecidas:
* pelos ‘Demitologizadores’ da Escola Bultmanniana;
* pelos proponentes da Tese Tillichiana de que Deus é simplesmente ‘A Base do Ser’,
* pelos defensores de um ‘Cristianismo Secular’ ou mesmo de um ‘Cristianismo Ateu’, que reconhece a ‘Morte de Deus’ anunciada por Nietzsche;
* ou mesmo pelos inventores da ‘Teologia da Libertação’, em sua maioria meus compatriotas latino-americanos?
A resposta é relativamente simples: porque aquilo que eles propõem como reinterpretação do Cristianismo parece-me, agora, abrir mão de tudo com o que o Cristianismo esteve associado no passado.
* A gente não precisa de Jesus, nem mesmo de Paulo, para ser o existencialista cristão que Bultmann propõe: basta aceitar algumas poucas ideias de Heidegger…
* A gente não precisa da maior parte do Cristianismo Tradicional para aceitar a ideia de que Deus não passa da Base do Ser: basta aceitar um pouco do Idealismo Moderno (ou mesmo Antigo)…
* E certamente a gente não precisa de nenhuma parte do Cristianismo Tradicional para ser um secularista, ou um ateu, ou um marxista.
As doutrinas religiosas ou teológicas do Cristianismo Tradicional foram tão drasticamente reinterpretadas nessas propostas modernas que, em minha nova maneira de ver as coisas, elas deixaram de ser as mesmas doutrinas: tornaram-se algo diferente, totalmente distinto do Cristianismo Tradicional. E para esse ‘algo diferente’, as doutrinas tradicionais do Cristianismo pareciam ser totalmente dispensáveis.
Minha questão, então se tornou: por que colocar vinho novo em recipientes velhos? Por que não simplesmente beber o vinho novo em seus novos e atraentes recipientes? (Vide Mateus 9:16-17; cp. Marcos 2:21-22 e Lucas 5:36-38.) Por que pretender acreditar as mesmas coisas que os fieis que se sentam nos bancos da igreja creem, mesmo que, no íntimo, você não acredite mais em nada? Por que recorrer a todo tipo de ginástica intelectual para fazer crer que isto ou aquilo é o que Bíblia quis dizer o tempo todo, embora uma leitura simples e literal da Bíblia pareça indicar exatamente o contrário?”
Conclusão deste primeiro artigo sobre este tema.
Hoje, quase vinte anos depois de ter escrito isso, eu reconheço que coloco os cristãos de hoje diante de um dilema impossível: ou eles são cristãos tradicionais, conservadores, fundamentalistas mesmo – ou então eles reconhecem que não são mais cristãos, pegam seus chapéus e “tchau e bênção”: saem da Igreja. Nisso acho que o mais intelectualizado dos Fundamentalistas do fim do século 19 e começo do século 20, John Gresham Machen, estava certo, quando afirmou, em seu livro Christianity and Liberalism, de 1923, que o Liberalismo Teológico daquela época não era mais cristão: era uma outra religião — embora com alguns pontos de contato.
O problema é que boa parte dos cristãos modernos não aceitam nem um nem outro “chifre” desse dilema: querem continuar a se considerar cristãos legítimos, mas desejam, ao mesmo tempo, que o Cristianismo mude – o suficiente, não demais…
A questão que quero colocar aos defensores do MRB – Movimento Reforma Brasil, entre os quais eu mesmo me situo, é a seguinte: será que uma mera reforma política do Brasil basta, ou será necessário ir mais longe, cortando mais fundo no próprio ser do Brasil (na própria carne do brasileiro), propondo e promovendo a transformação da cultura e dos valores do país e do caráter de seus cidadãos?
A pergunta que discuto no segundo artigo deste blog, em relação à pergunta do Dr. Clóvis, é a seguinte: do ponto de vista jurídico, do ponto de vista daquilo que a legislação prevê, o processo de escolha de Ministros / Juízes das cortes supremas dos Estados Unidos e do Brasil é exatamente o mesmo. Por que funciona lá e não funciona aqui?
Em outras palavras, e radicalizando um pouco: Será que alguma reforma política, com foco jurídico, que se faça aqui, vai um dia funcionar e surtir os frutos desejados, implantando o respeito pela coisa pública, a honestidade, e pondo fim à corrupção e à roubalheira? Ou será que a cultura brasileira (herdada ou não de Portugal) e o caráter do brasileiro (herdado ou não do do português) conseguem bagunçar e corromper qualquer coisa que se proponha, que não envolva uma transformação radical da cultura brasileira e do caráter do brasileiro?
Ainda em outras palavras: Será que precisamos deixar de ser Brasil e brasileiros, e passar a ser alguma outra coisa (quem sabe Japão e suíços), para que o Brasil e os brasileiros passem a ter jeito e a dar certo?
É esse o desafio que não vi colocado no Simpósio de ontem. Se estou certo, e se não estou quero que me apontem, aquilo de que precisamos, num primeiro momento, não é tanto Reforma Política, mas Reforma Cultural e Moral. Os líderes de uma e de outra são diferentes. Os da segunda são mais Filósofos e, quem sabe, Teólogos, não Advogados e Cientistas Políticos (como parecem ser os líderes da primeira).
Termino com uma reflexão personalíssima. Lutero foi muito citado ontem. Algumas citações formidáveis dele, como a mencionada atrás, acerca da consciência, eu transcrevi com aprovação no Facebook. Um querido amigo meu, estudante de Teologia no mesmo Seminário em que eu comecei a estudar Teologia, sabedor de algumas críticas severas que eu tenho ultimamente feito a Lutero, me cutucou dizendo: “O senhor tem uma relação de ódio e amor com Lutero, não é? Hahahaha.” Respondi: “Gosto do Lutero Jovem… Do Lutero Velho (1522 em diante) realmente não gosto. Às vezes pior do que isso. São pessoas diferentes os dois.” O moço era revolucionário; o velho, reformador (talvez, nem tanto.)
No próximo artigo continuarei a discussão, na mesma direção.
Em São Paulo, 25 de Fevereiro de 2018.
Parte 2
Neste artigo vou me aprofundar um pouco na questão filosófica – ou meramente teórica – da Mudança e Inovação, que lega à pergunta: Reformar ou Transformar?
A. Mudança e Inovação
O século vinte foi um século de mudanças. Se compararmos o início dos séculos vinte e vinte e um, 1901 e 2001, vemos que o mundo, na maioria dos seus aspectos, não era o mesmo nessas duas ocasiões. O fato de que em 2001 um novo milênio, e não apenas um novo século, teve início, ajudou a alimentar a sensação de que o mundo havia mudado radicalmente durante os cem anos anteriores.
É inegável que a inovação tecnológica, mesmo que não tenha sido um agente de mudança (esse papel está reservado exclusivamente para seres humanos), foi uma importante ferramenta de mudança. O telefone, o cinema, o rádio, o toca-discos, o automóvel, o avião, o computador, a Internet, a televisão, a câmera, o gravador e o reprodutor de vídeo, o telefone móvel, e muitas outras tecnologias (as tecnologias médicas, por exemplo) alcançaram seu ponto alto no século vinte, mesmo que suas raízes estivessem plantadas no século anterior (especialmente na segunda metade dele). No devido tempo, todas essas tecnologias, que originalmente eram bastante diferentes umas das outras, se tornaram digitais ou computadorizadas, em um mecanismo frequentemente chamado de convergência tecnológica.
As mudanças que essas tecnologias inovadoras ajudaram a produzir no mundo foram amplas, profundas e difusivas. Difusiva, no caso, quer dizer que quase todos os aspectos da vida privada, social e profissional foram afetados por elas.
A escola foi, e continua sendo, uma exceção notável (para citar um exemplo de uma de minhas áreas de especialização). É verdade que houve pequenas mudanças e inovações dentro da escola, mas elas foram, em sua maior parte, superficiais ou cosméticas, e frequentemente afetaram apenas uma só dimensão da instituição: a instituição como um todo não foi transformada.
Para melhor entender essa afirmação, precisamos ter em mente a relação entre mudança e inovação.
Inovação envolve mudança, mas nem toda mudança é inovadora ou produz inovação.
Como muitos autores convincentemente mostraram em tempos recentes, a partir da obra seminal de Thomas S. Kuhn, A Estrutura das Revoluções Científicas (1962), há pelo menos duas modalidades de mudança:
- Mudança Ordinária, ou mudança que tem lugar dentro de um paradigma estabelecido;
- Mudanças Extraordinária, ou mudança que leva à substituição do paradigma vigente.
No primeiro caso, geralmente temos mudanças pequenas, aos pedaços, incrementais, graduais — melhorias superficiais de um paradigma. As mudanças ou melhorias não questionam o paradigma: elas o dão por pressuposto. Quando elas têm que ver com a prática (e não com a teoria), essas mudanças e melhorias não se distanciam muito da forma convencional, quase universalmente aceita, de fazer as coisas.
No segundo caso, comumente lidamos com mudanças amplas, profundas, sistêmicas (holísticas), radicais, não raro abruptas, que levam à destruição de um paradigma estabelecido e à sua substituição por um outro. As mudanças aqui subvertem o paradigma estabelecido, posto que seu objetivo é substituí-lo por outro. Quando elas têm que ver com a prática (e não com a teoria), essas mudanças se distanciam significativamente da forma convencional, geralmente aceita, de fazer as coisas.
Se estendermos um pouco a analogia política, poderíamos dizer que a primeira modalidade de mudança é reformadora, enquanto a segunda é transformadora. Mudança reformadora é “mudança dentro do paradigma“. Mudança transformadora é “mudança de paradigma“. Mudança transformadora é algo equivalente, se não idêntico, a mudança revolucionária – mas prefiro a expressão mudança transformadora. É equivalente, também, se não idêntico, à recriação ou reinvenção daquilo que é objeto da mudança.
O principal indicador que diferencia a mudança transformadora da mudança reformadora é o grau de inovação que ela representa em relação àquilo que é atualmente pensado ou feito. Inovação tem que ver com o que é novo. Seu grau pode ser mensurado comparando o que é novo na mudança, seja ela de pensamento ou de prática, com o pensamento e a prática atuais. Quanto maior for o grau de inovação, tanto maior a distância do pensamento ou da prática atuais, e assim tanto maior a amplitude, a profundidade, a inclusividade, e a radicalidade da mudança.
A seguinte figura, retirada de um pequeno livro de David Hargreaves chamado Education Epidemic, que está disponível gratuitamente na Internet, ajuda a entender o que está sendo dito aqui.

B. Reforma ou Transformação?
O gráfico mostra que as duas modalidades de mudança mencionadas podem levar a:
- Reforma (ou, como eu prefiro, Reformação, mas reconheço que o termo não é usado no Brasil, sendo o termo de rigor nos Estados Unidos) institucional ou organizacional: quando a mudança tem lugar dentro das estruturas existentes e mantém o presente paradigma;
- Transformação institucional ou organizacional: quando a mudança vai além das estruturas existentes e substitui o presente paradigma (transformar é ir além [trans] da forma presente, transcender a estrutura existente, substituir o paradigma).
Outra fato importante é o seguinte. Se, em um processo de mudança, privilegiamos o pensamento e a prática existentes, a inovação será a primeira vítima: haverá pouco que é novo nas mudanças e o resultado final não será muito diferente das condições iniciais.
Três curtas citações, oriundas de diferentes fontes, corroboram essa tese:
“A única maneira de mudar drasticamente o mundo (ou suas instituições e organizações) é imaginando-os radicalmente diferentes do que são hoje. Se, no processo de mudança, fizermos uso demasiado da sabedoria e do conhecimento que nos trouxeram até aqui, terminaremos bem próximos de onde começamos. Se você quer obter resultados diferentes, comece olhando as coisas de novo, só que agora de uma perspectiva totalmente nova” (Jay Allard, ex-Vice-Presidente da Microsoft – a linguagem foi um pouco alterada para ênfase; negrito acrescentado).
“Se você continuar fazendo basicamente a mesma coisa que tem sempre feito, você continuará obtendo basicamente os mesmos resultados que sempre obteve” (Jack Canfield, autor bem conhecido – com pequena alteração para ênfase e negrito acrescentado).
“Insanidade é fazer basicamente a mesma coisa um dia após o outro e esperar que de repente apareçam resultados diferentes” (atribuído a muitas pessoas, inclusive Benjamin Franklin e Albert Einstein – negrito acrescentado).
Como já mencionado, os últimos sessenta anos trouxeram ao nosso mundo mudança ampla, profunda, sistêmica (holística), radical, não raro abrupta e frequentemente não esperada. Essa mudança nos levou a nos distanciar das ideias e das práticas correntes em quase todas as áreas da vida — distanciar-nos o suficiente para que muitos autores importantes passassem a falar em uma nova Renascença, uma nova era, e até mesmo em uma nova civilização. É difícil imaginar que esse nível de mudança pudesse deixar importantes instituições da sociedade, como é o caso das instituições políticas (e da escola), inalteradas.
Volto a ilustrar com a escola. Como também mencionado na seção anterior, a escola foi, e continua a ser, uma notável exceção entre as instituições que o século vinte herdou dos séculos anteriores. Embora seja inegável que tenha havido pequenas mudanças dentro da escola nos últimos duzentos e cinquenta anos, mais ou menos, elas foram, em sua maior parte, superficiais e cosméticas, e frequentemente afetaram apenas uma só dimensão da instituição: ou o currículo, ou a metodologia, ou a forma de avaliação, ou o tipo de tecnologia utilizada, ou os demais recursos empregados, ou o estilo de gestão, ou a relação com o mundo do trabalho, ou a relação com a comunidade do entorno, etc. A instituição em si não foi significantemente modificada. A escola certamente não foi transformada no processo: ela continua a ser basicamente a mesma instituição criada cerca de dois séculos e meio atrás, no início da Civilização Industrial. As inovações que inundaram outros setores da sociedade passaram ao largo dela.
Parece haver pouca dúvida de que a escola se tornará uma instituição obsoleta (assumindo que não tenha ainda se tornado isso) e eventualmente desaparecerá, se nós permitirmos que ela fique satisfeita com um tipo menor de mudança que a deixe perto demais do pensamento e da prática existentes. Mas é isso que acontecerá se nós limitarmos o grau de inovação que a afete.
Assim, quando falamos em inovação, é esta segunda modalidade de mudança que devemos ter em mente: mudança transformadora. É nada menos do que a reinvenção da educação em um sentido desescolarizado que devemos perseguir. E, entretanto, essa mudança não acontecerá rapidamente: vai exigir persistência e paciência. (Apresentei recentemente em uma Conferência nos Estados Unidos, PBL-2018 – Problem-Based Learning, Fevereiro de 2018, o seguinte artigo: “Reinvent the School or Deschool Education?”, que pode ser lido em meu blog Deschooling Education, no URL https://deschooling.education/2018/02/18/reinvent-the-school-or-deschool-education/.
C. Para o Brasil: Reforma ou Transformação?
No caso do Brasil, será que uma Reforma Política basta ou será que precisamos algo mais abrangente e profundo, que possa ser caracterizado mais como uma Transformação Cultural e Moral, ou uma Revolução Pacífica das Ideias e dos Costumes?
Menciono os exemplos constante dos pontos do Movimento Reforma Brasil – MRB.
A questão do Fim do Foro Privilegiado. Se o Foro Privilegiado for eliminado, ou tiver o seu escopo restringido para os Chefes dos três poderes, et ceteris paribus (e as demais coisas ficarem iguais ao que são), vai fazer que (a menos que Supremo Tribunal Federal mantenha, com rigor, o seu atual entendimento) os processos de deputados e senadores vão para a Primeira Instância e só vão transitar em julgado depois de os respectivos acusados estarem mortos – situação em que sua eventual condenação não redundará em nada.
A questão do Fim das Reeleições sem Limites para o Legislativo. Sabemos que no Brasil é comum algum deixar de ser Deputado ou Senador e passar a ser Prefeito ou Governador, ou, então, ir para outro ramo do Legislativo (Eduardo Suplicy deixou de ser Senador e foi ser Vereador de São Paulo). Ou, então, o Deputado ou Senador deixa de concorrer mas elege o filho, ou o cônjuge, ou o sobrinho e continua a mandar. Isso acontece também no Executivo, em que o cônjuge de um Governador é eleito no mandato seguinte. (Na Argentina aconteceu já três vezes de a mulher de um Presidente vir a ser eleita “Presidenta” na sequência). Se não forem mudados a cultura, os valores, e o caráter das pessoas, essa é uma reforma, isto é, uma pequena mudança cosmética, que dá a impressão de que algo importante foi mudado apenas para que aquilo que realmente importa continue a ser como sempre foi.
No caso do Voto Distrital, a criatividade brasileira já trabalhou, inventando o chamado “Distritão”, que faz com que o Voto Distrital tenha o seu impacto reduzido pela metade. Quando o “Voto Distrital Misto” vier a ser aprovado, como virá, isso será indício de que o Congresso já encontrou todas as saídas para que a medida se torne inócua e tudo permaneça como está.
É isso. Por enquanto.
Em São Paulo, 25 de Fevereiro de 2018
Categories: Liberalism
Tags: Inovação, mudanca, reforma, transformacao